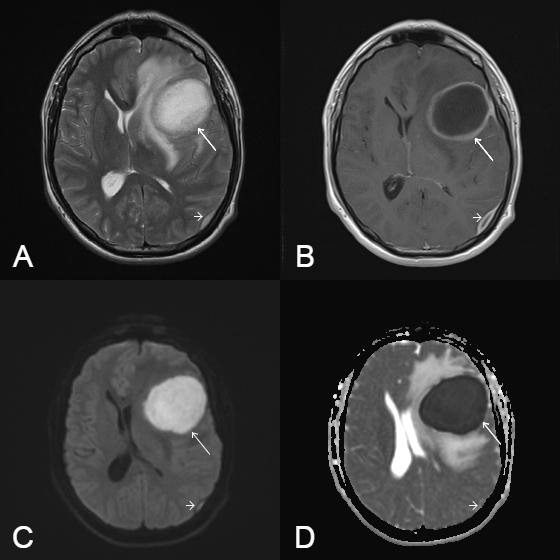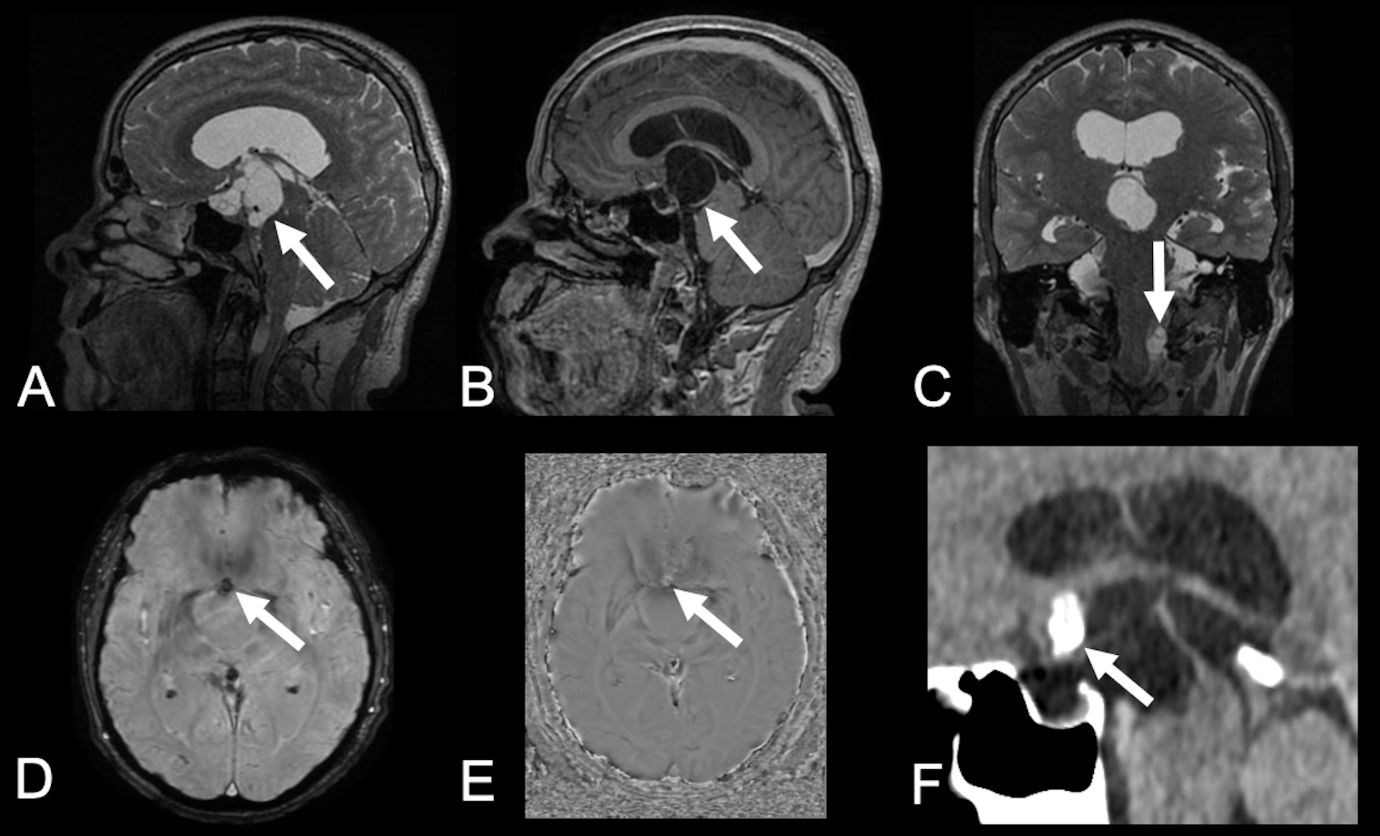
Desafios éticos em tempos de COVID-19
Em tempos de pandemia, onde nem mesmo a norma é capaz de cobrir a pluralidade dos casos que a realidade apresenta, é preciso desenvolver um discernimento capaz de compreender o que constitui o melhor para o bem comum
07/04/2021
Em tempos de pandemia, espera-se que princípios de ética e moralidade imperem e nos faça sentir orgulho do ser humano
As pandemias são sempre desafios para as sociedades, mas a dimensão da pandemia da COVID-19 destapou subitamente situações que estavam camufladas ou não estavam à vista. Os desafios éticos da saúde, da economia, da política e dos direitos humanos agora pesam mais do que nunca. Decidir sobre o desconhecido, decidir sem informação suficiente, decidir por convicção, decidir com base na evidência, decidir sobre o futuro próximo nunca foi tão difícil. Em todas as situações em que os médicos se confrontam com a impotência de curar a doença têm a tentação de procurar alternativas, algumas com provas dadas de que não funcionaram em situações parecidas. A miopia da sociedade faz a visão sobre a ética e a moral ficarem distorcidas e as discussões em torno do conceito de ética nunca se fizeram tão necessárias.
Para saber mais sobre o assunto, a Assessoria de Comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) entrevistou o Dr. Ylmar Corrêa Neto, neurologista, Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), nas disciplinas de Neurologia e Semiologia, além de Ética Médica e Bioética no Curso de Medicina e no Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas, e também entrevistou o Dr. Marco Antônio Azevedo, médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Filosofia pela mesma Universidade, Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), professor nos cursos de graduação em Filosofia e Medicina da Unisinos e médico do Hospital de Pronto Socorro (Porto Alegre/RS).
Confira as entrevistas na íntegra.
SBMT: Há inúmeras produções científicas sobre pesquisas e descobertas sobre o coronavírus e tratamentos possíveis. Em sua opinião, quais são os dilemas éticos encontrados pelos médicos neste contexto?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Juízo crítico na avaliação dos diversos estudos publicados sobre o coronavirus, sua prevenção e seu tratamento, é o único caminho eticamente justificável para os médicos. Infelizmente a pandemia revelou uma falha gravíssima na formação de grande parte dos nossos médicos. Parece que a capacidade de avaliação de novos dados científicos está aquém do suficiente.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Para qualquer leigo, é fácil identificar que há uma grande divergência entre os médicos sobre como lidar preventiva e terapeuticamente com a Covid-19. De certo modo, todos admitem que, sendo uma doença nova, é natural que haja divergências, muitas delas baseadas tanto na falta de consenso como na falta de experiência com essa nova enfermidade. Mas imagino também que seja bastante difícil para um leigo entender o que se passa e por que a divergência se tornou tão intensa e pública. Os pacientes já estavam acostumados a aceitar que muitas vezes, especialmente nos casos mais difíceis, pode haver diferenças de abordagem entre os especialistas. Tanto é que os pacientes para os casos mais complexos muitas vezes procuram por “segundas opiniões”, fazem comparações e buscam consultar com aqueles em que mais confiam ou para os quais recebem indicações de pessoas conhecidas ou confiáveis. Isso de certo modo sempre foi tomado como algo natural. Mas o que vemos agora é algo diferente. A divergência entre médicos, ou entre grupos de médicos, é uma divergência pública. E não se trata de, como era mais comum, dizer que “respeito a opinião do colega, mas trato de modo diferente, assim ou assado”. Cada grupo acusa o outro de cometer uma infração à ética, de agirem de forma errada, imprudente ou negligente (a depender do que se trata). Isso se aplica tanto às medidas de saúde pública para conter a epidemia, como o debate sobre a correção ou não das medidas de isolamento social, especialmente o chamado “lockdown”, mas também às medidas farmacológicas.
Sou, além de filósofo interessado em temas de bioética e filosofia da medicina, também médico e clínico. Sou especialista em medicina de família e em pediatria, com experiência em medicina de emergência. Trato pessoas com Covid-19, tanto fora como dentro do hospital em que trabalho, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Também tenho minhas opiniões, as quais, de modo geral, se alinham às posições defendidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia e também pela OMS. Mas como sou filósofo, procuro entender o ponto-de-vista de meus colegas e, como bioeticista, penso também nas implicações éticas e deontológicas de cada posicionamento. Já pensei em emitir minhas opiniões publicamente. Algumas foram publicadas em artigos. Mas ainda estou intrigado com alguns aspectos da polêmica em curso.
Há de fato duas grandes polêmicas. Como disse, uma diz respeito às medidas de saúde coletiva. A outra diz respeito à prescrição de tratamentos cuja eficácia é questionada ou duvidosa. Sobre as medidas de saúde pública, a maioria dos epidemiologistas, bem como órgãos como a OMS, recomendam que sejam empregadas de forma criteriosa medidas de distanciamento físico entre as pessoas, recomendando, porém, que, em caso de agravamento do contágio, sejam proibidas atividades que favoreçam aglomerações. Isso afeta sobretudo a livre circulação de pessoas, o lazer, mas principalmente atividades econômicas importantes, como o comércio. Mas há um grupo que questiona essas medidas. Especialistas em saúde pública de alguns países, como a Suécia, ficaram inclusive famosos por defender uma posição contrária. Embora seja um tema diferente, também há divergência sobre o uso de máscaras. Não sou epidemiologista, mas me parece bastante plausível a tese de que medidas de distanciamento e de limitação de atividades como o comércio são imprescindíveis, para evitar que a quantidade de pessoas doentes aumente muito acima de nossa capacidade atual de cuidar dessas pessoas e de interná-las em unidades de terapia intensiva. Mas como filósofo me interessa o fato de que há uma divergência e sempre procuro tentar entender qual a tese defendida por cada um dos lados. Assim, vejo que os críticos ao lockdown parecem argumentar que a única forma racional de lidar com a pandemia de uma doença nova (para a qual não temos imunidade natural) é esperar que a formação de uma imunidade de “rebanho” reduza a velocidade do contágio e controle a sua disseminação pandêmica. Mas a tese tem uma consequência dramática; pois ela é cética quanto à possibilidade de que possamos de algum modo impedir ou mesmo atenuar a catástrofe. Estou é claro resumindo a posição. Mas uma das consequências perversas da tese é de que, adotando-a, teríamos de simplesmente admitir que a morte de quase 3 milhões de pessoas no mundo é uma contingência inevitável da pandemia, algo com o qual devemos simplesmente nos conformar. Alguns filósofos entendem que essa visão expressa uma espécie de “necropolítica” (um termo criado pelo filósofo africano Achille Mbembe para criticar a negligência da atual ordem mundial com a morte endêmica, especialmente dos mais pobres e vulneráveis), pretendendo com isso dizer que seus defensores invertem a ordem do que é mais importante, a vida real e presente das pessoas, em favor de outros interesses, de poder ou econômicos. Os defensores da tese de que devemos simplesmente deixar a pandemia varrer o mundo e esperar que surja uma imunidade natural de rebanho (visão que outros chamam de “negacionista”, embora esse rótulo seja equívoco, pois o que seus defensores negam não é que haja uma pandemia, mas o valor da prioridade à prevenção da morte sobre outros objetivos sociais, como o econômico) argumentam, enfim, que o foco do combate à doença deve ser no tratamento dos doentes e não na prevenção do contágio.
Ocorre que não há tratamento eficiente conhecido. Se essa posição fosse assumida de pleno, teríamos inclusive que incitar as pessoas a deixarem se contagiar. Teríamos de promover o contágio ao invés de evitá-lo. Assim, se máscaras evitam o contágio, deveríamos evitar usá-las, pois medidas preventivas impediriam o estabelecimento de uma imunidade natural de rebanho. Ora, convenhamos, isso nos conduz obviamente a uma situação repugnante. Um filósofo pode extrair disso a conclusão (por redução ao absurdo) de que adotar essa estratégia simplesmente não pode ser correto, pois suas consequências são inaceitáveis. E mesmo que os defensores tivessem razão (de que a morte na pandemia é inevitável), teríamos de lutar até mesmo contra tais fatos, na esperança de que tenhamos uma sorte melhor. A divergência de fundo, portanto, está sobre o que, afinal, devemos dar valor e priorizar. Para quem dá valor às pessoas e sua vida presente, estando ou não corretos os críticos do lockdown, seu senso de humanidade conduz a rejeitar a tese do “deixar morrer”.
Sobre o tema dos tratamentos, penso que estamos observando publicamente um confronto entre duas concepções diferentes sobre a medicina. De um lado, temos os que acreditam que a experiência clínica, unida a boas teorias fisiopatológicas, são suficientes para, diante da falta de conhecimentos seguros, orientar prescrições preventivas ou terapêuticas, dada a situação de emergência em que nos encontramos. De outro, temos os que defendem que os cânones da prescrição clínica se guiam por princípios precaucionários, baseados no “primum non nocere”, argumentando que tratamentos, novos ou redirecionados, mas sem comprovação suficiente, devem ser evitados e, principalmente, não podem servir de guias para políticas públicas.
Pessoalmente, alinho-me a essa segunda posição. Todavia, a disputa tornou-se eivada de críticas moralistas de lado a lado. Minha conclusão é que deveríamos adotar uma posição de tolerância, em reconhecimento ao fato da divergência na comunidade profissional. Mesmo assim, não se justifica a partir disso admitir que políticas públicas possam guiar-se por condutas que não são comprovadas de modo suficiente e que não são consensuais. Deve-se permitir que cada médico julgue em decisão compartilhada com seu paciente sobre qual a melhor conduta. Porém, poderia o poder público encampar como política o uso indiscriminado de medicamentos sem comprovação suficiente? Ora, se houvesse consenso entre os especialistas de que, dado o contexto crítico, devemos romper com os princípios precaucionários da medicina baseada em evidências, admito que seria aceitável que certas condutas sem comprovação científica robusta pudessem guiar os gestores públicos e os clínicos. Mas esse não é o caso. Não há consenso sobre isso e é bastante plausível que não devemos abandonar esses cânones racionais da MBE. Então, não havendo consenso, o que pode e deve guiar políticas públicas é somente aquilo que obteve comprovação científica suficiente (falo “suficiente” e “robusta”, pois não se trata de que não há estudo científico em curso; o que não há, para muitas condutas, é comprovação científica consolidada e baseada em estudos mais seguros contra vieses de observação e de inferência).
SBMT: Quais são os maiores desafios éticos a serem enfrentados pelos médicos nesta pandemia?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Para quem estuda ética médica e bioética a pandemia tem se mostrado, infelizmente, uma fonte inesgotável de problemas éticos. Exemplos maiores são as dificuldades de lidar com recursos escassos, como vagas em UTI, disponibilidade de oxigênio, ou vacinas. Critérios de priorização transparentes e justos foram elaborados, mas as custas de grande estresse dos profissionais de saúde envolvidos. Exemplos menores, mas também de grande importância pela alta frequência, foi o embate entre o conhecimento científico e as solicitações dos pacientes por tratamentos ineficazes, colocando de um lado a autonomia do médico, necessariamente limitada pela ciência, e a autonomia do paciente, muito influenciada por fake news promovidas por muitos grupos com interesses diversos da melhor saúde da população.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Penso que o maior desafio ético é justamente encontrar um caminho de acordo entre os divergentes. A medicina está expondo publicamente uma fratura que pode ser perigosa para a confiança na própria profissão. A confiança nos especialistas sempre foi um elo fundamental para a confiança na profissão. O grande desafio dos médicos no presente momento é como enfrentar o compromisso de ajudar as pessoas, nossos pacientes, os doentes de Covid-19, de forma unida e com integridade e respeito à nossa profissão e aos limites impostos pela ciência.
SBMT: Um aspecto lamentável dessa pandemia, ao menos no Brasil, é a politização. Temos acompanhado a desobediência às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de instituições científicas reconhecidas pelo seu trabalho e credibilidade, sobre a melhor maneira de lidar com a falta de vacina e de tratamentos específicos. Qual a sua opinião a respeito?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Uma característica contemporânea, da chamada fase líquida da modernidade, é a relativa suscetibilidade das instituições tradicionalmente envolvidas na regulação social. Esta susceptibilidade é benéfica quando facilita a renovação das normas frente aos avanços técnico científicos e sociais. Todavia esta fragilidade é maléfica quando influenciada por narrativas de cunho não científico, de cunho político radical, ou narrativas dogmáticas religiosas. Ainda não sabemos lidar corretamente com a força das mídias não tradicionais na divulgação de verdades alternativas, força esta que tem se mostrado eficaz tanto na população em geral, quanto surpreendentemente em grande parte dos médicos brasileiros.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Comentei um pouco sobre isso acima. Mas no que tange ao tema das vacinas, a disputa política na sociedade (também vimos isso nos Estados Unidos) tem influenciado negativamente de forma evidente a confiança das pessoas nas autoridades sanitárias. No Brasil, até havíamos iniciado bem, com a condução dada no início pelo ministro da saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta. A queda do ministro foi um evento lamentável para o êxito disso que precisávamos e ainda precisamos: uma condução da crise de forma unitária pelas autoridades sanitárias. Foi lamentável e estamos pagando por isso até agora. Um aspecto importante para toda política pública, especialmente na área da saúde, é que tenhamos autoridades liderando ações de forma convergente com os pareceres dos especialistas na área, no caso, epidemiologistas e infectologistas sobretudo. A separação entre a política e a área técnica é essencial para que possamos obter resultados, mesmo que adiante venhamos eventualmente a concluir que havia caminhos melhores. Porém, numa crise como a que vivemos, de graves repercussões para a saúde e vida das pessoas, é importante buscar essa convergência. Isso não houve em nosso país até agora, pelo menos não ao nível ministerial, que se tornou apêndice dos interesses políticos e eleitorais do Presidente. A queda do ministro Mandetta foi um sinal evidente disso.
SBMT: Médico não é formado e capacitado para receitar medicamentos somente porque acredita no bom resultado ou baseado em observações pessoais ou de outrem. É preciso que estejam comprovadas evidências científicas suficientes da eficácia do medicamento sobre a doença e a ausência de efeitos adversos graves ou letais que impeçam seu uso; que tenha passado pelas etapas de pesquisa, devidamente autorizadas pelos organismos responsáveis no país. Então, no caso da pandemia de COVID-19, como lidar com a ética médica nesse caso?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Os médicos são treinados para utilizar os tratamentos com as melhores evidências disponíveis. Teorias fisiopatológicas, estudos in vitro, casos anedóticos e opinião de especialistas são evidências idôneas e podem ser utilizadas na decisão clínica, todavia frente a estudos randomizados ou avaliações sistemáticas de estudos randomizados perdem totalmente a importância. Neste ano de pandemia, para vários tratamentos, evoluímos da ausência de evidências clínicas de eficácia para a presença de evidências robustas de ausência de eficácia. Felizmente em outras situações medicamentos se mostraram eficazes em estudos bem desenhados.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Na verdade, a visão que apresentas na pergunta, de que observações pessoais ou expectativas subjetivas de bons resultados não bastam para amparar condutas, é uma visão recente na clínica médica. Essa é a visão que o movimento conhecido como Medicina Baseada em Evidências defende, mas o discurso da MBE é recente na história da medicina. Ele tem provavelmente não mais do que 40 anos de existência. Ele teria iniciado em 1981, quando um grupo de médicos e pesquisadores da McMaster University publicou o primeiro de uma série de artigos no Canadian Medical Association Journal, propondo princípios e critérios para avaliar a qualidade da literatura médica, com o fim de orientar a prática clínica de uma forma mais racional e eficiente. 1981 foi o ano em que entrei na faculdade de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A concepção era chamada de “epidemiologia clínica” e foi, alguns anos depois, chamada de “evidence-based medicine”. A ideia de uma prática profissional “baseada” em evidências foi e ainda é criticada por estudiosos das humanidades médicas e também por alguns filósofos da ciência. Alguns estudiosos das humanidades médicas passaram a criticá-la por verem-na como uma forma de redução da dimensão humana e social da prática médica a uma dimensão puramente biológica. Dizem alguns deles que a medicina não pode estar “baseada” em evidências (isto é, em informações científicas apenas). A base da medicina, argumentam, é constituída por fundamentos éticos. Quanto aos filósofos da ciência, muitos questionaram o uso do termo “evidência” (que tipo de “evidência”, questionam eles, é, afinal, relevante?). Recentemente, em junho de 2020, em meio à crise da Covid-19, dois críticos defensores de uma abordagem sobre a medicina “centrada na pessoa” (Person-Centered Medicine) publicaram um artigo em que afirmam que a pandemia abalou os pilares da MBE, que eles consideram responsável por grande parte da confusão e dos escrúpulos que desorientaram os médicos, contribuindo para que uma sensação de pânico fosse gerada no público. Não sou da mesma opinião que eles, mas há elementos verídicos no que dizem. Médicos mais antigos em geral tendem a sobrevalorizar a experiência clínica, ao passo que os mais jovens estão sendo formados já com base na visão de que devem ajustar suas condutas às recomendações guiadas pelas revisões sistemáticas da Cochrane. Mas poucos pensam sobre o que torna racional suas condutas e porque devem agir assim e não de outro modo. Além disso, também não é fácil para ambos convencer seus pacientes de que estão certos. Os mais “tradicionais” precisam garantir que seus pacientes confiem neles, em sua experiência; os mais precaucionários sentem certamente dificuldade para explicar a seus pacientes porque devem evitar tratamentos que são divulgados nas mídias sociais como benéficos (e, às vezes, até como miraculosos!), especialmente quando os pacientes acreditam que, se os tratamentos têm poucos efeitos colaterais, eles teriam pouco a perder (já que possuem uma tendência a imaginarem-se sob o risco iminente de morrerem da doença). Poucos se julgam aptos a explicar seja a teoria de base do tratamento precoce (que se baseia em conhecimentos complexos de biologia viral) ou a lógica precaucionária interna da MBE (isso, aliás, me leva a pensar sobre como se dá na prática a “decisão compartilhada”, um dos tópicos mais importantes da relação médico-paciente moderna, no contexto da Covid-19).
Na verdade, é preciso admitir que as bases epistemológicas da MBE ainda não estão bem assentadas. Pessoalmente, penso que Gordon Guyett e Benjamin Djulbegovic conseguiram avançar nesse tema, mas a sugestão deles é ainda inicial e superficial. Guyett e Djulbegovic sugerem que a base epistemológica da MBE está na união entre duas abordagens filosóficas conhecidas como evidencialismo e confiabilismo. O conceito de evidência que empregam é amplo. Evidência é tudo o que fornece suporte para alguma alegação ou crença. Nessa definição ampla, observações clínicas também são evidências, sejam elas coletadas de forma sistemática ou não. O problema é que as evidências que dispomos para crer ou não em algo diferem em confiabilidade. Assim, quando decidimos afirmar ou recusar uma crença, agimos racionalmente quando examinamos a totalidade das evidências em seu favor ou contra, levando em conta sua “força” epistêmica, isto é, sua qualidade (ou confiabilidade) – esta seria a contribuição da epistemologia confiabilista. Penso que essa visão de Guyett e Djulbegovic torna mais clara a base epistemológica da MBE e suas vantagens sobre as concepções mais tradicionais, que dão mais valor ou peso às teorias ou explicações fisiopatológicas corroboradas pela observação e pela experiência clínica. A MBE não veio, portanto, para eliminar o papel dessas explicações ou das observações clínicas e estudos baseados nelas; veio para mostrar suas limitações e ressaltar a importância de exigirmos estudos científicos melhores e de classificar as evidências disponíveis quanto a sua força epistêmica. Diante de evidências frágeis, devemos segundo a MBE ser mais cautelosos, parcimoniosos e prudentes. O princípio que deve guiar nossa conduta funda-se na ideia do equilíbrio ou equipoise clínica: quando assumimos que ainda não sabemos se algo é benéfico ou prejudicial, a menos que ele esteja participando voluntariamente de algum experimento, devemos evitar expor nosso paciente aos riscos conhecidos associados a certa conduta ainda questionável ou em estudo.
Enfim, penso que o que vemos hoje na Covid é reflexo dessa diferença de atitudes epistêmicas, entre a visão tradicional e a visão moderna da MBE. E a falta desse debate filosófico honesto é, penso, reflexo da falta de reflexão entre os médicos sobre as bases lógicas e epistemológicas de suas práticas. Na Covid, por ser uma doença e uma pandemia grave, não há uma preocupação em tornar explícitas essas questões; como a doença tem consequências graves, o que se faz é tentar “moralizar” a culpa sobre os adversários. Acredito que somente depois de passada a pandemia é que talvez possamos retomar essa discussão nos termos que agradam aos filósofos: com aprofundamento conceitual e lógico e respeito à divergência. O mero fato, porém, de que há uma divergência (seja ela na superfície, na disputa sobre condutas, ou na profundidade, sobre as bases lógicas de cada abordagem) deveria nos levar a algumas conclusões sobre ética médica. Penso que já temos algum consenso que permitiria tirar conclusões sobre o que podemos chamar de “certo” e “errado” no que tange às condutas hoje propostas na Covid. A base, seguramente, está na MBE, especialmente na versão proposta por Gordon Guyett e outros, o que envolve uma interpretação deontológica do que podemos extrair de sistemas como o GRADE.
SBMT: Em sua opinião, como fica o dever de tratar no contexto da pandemia de COVID? Quais os limites desse dever?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Os limites da autonomia do médico são as melhores e mais atualizadas evidências científicas e o respeito a autonomia dos pacientes em optar entre as alternativas cientificamente válidas. Na pandemia, vivemos no Brasil uma situação especial, culpa do estado e de seus governantes, culpa das mídias alternativas e culpa também da falta de critérios das mídias tradicionais, em que a população foi exposta a um volume imenso de informações contraditórias, turvando ou enviesando a capacidade de julgamento de muitos pacientes [e de médicos também]. Neste sentido o bom senso e a flexibilização pontual de condutas são necessários, ressaltando a necessidade por parte do médico de transmitir a informação correta do ponto de vista científico quanto a expectativa real de eficácia do procedimento adotado.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Seguindo na mesma linha do que disse acima, a questão que poderíamos nos fazer é: com base na qualidade das evidências disponíveis e nos graus diferentes de recomendação para certas condutas, quando podemos dizer que um clínico erra ao propor ou deixar de propor a seu paciente algum tratamento? Minha sugestão é que consideremos imprudência ao ato de propor condutas ou tratamentos para os quais há prova forte de que tais orientações são danosas ao paciente, isto é, de que a recomendação contrária à prescrição é forte. Age em negligência o médico que deixa de recomendar algo para o qual há evidências de alta qualidade e haja forte recomendação em seu favor. Entende-se, assim, que não age necessariamente em erro aquele que recomenda prescrições amparadas em estudos de moderada ou baixa qualidade cuja recomendação terapêutica é fraca. No contexto pandêmico, e havendo ainda ciência em curso, é plausível que algum médico conclua que tem razões práticas suficientes para recomendar um tratamento ainda pobremente embasado, mas que ele considera, em seu juízo clínico pessoal, recomendável. Uma questão, porém, é: poderia as razões desse médico (ou grupo de médicos) orientar também políticas públicas? Parece-me claro que esse passo não é razoável e que as autoridades públicas devem orientar-se apenas pelo que é proposto por painéis de especialistas reconhecidos, estes guiados por abordagens como a do sistema GRADE (tal como tem feito no Brasil, aliás, no que tange às condutas terapêuticas para a Covid-19, pela Sociedade Brasileira de Infectologia). Dito isso, veja que temos que ter cuidado ao condenar como antiéticas certas condutas médicas. Por isso tenho sugerido que passemos a adotar uma visão de tolerância, tornando, porém, claro ao público porque é inadequado orientar políticas governamentais com base em condutas não consensuais ou ainda em disputa (científica).
SBMT: Para o senhor, como fica a responsabilidade médica em tempos de coronavírus quando o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, diz que não é verdade a afirmação segundo a qual o tratamento precoce contra a COVID-19 é ineficaz, em que entidades médicas repudiam o tratamento precoce, enquanto outras entidades médicas desaprovam o posicionamento oficial da Associação Médica Brasileira (AMB) que pede banimento do tratamento precoce?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Cabe ao Conselho Federal de Medicina a regulação da medicina brasileira e a autarquia é muito bem preparada para tal. Tradicionalmente o CFM se ocupa das questões ético morais e consulta a Associação Médica Brasileira e as sociedades de especialidades nas questões técnico-cientificas. Quando elegemos os conselheiros, elegemos colegas de elevada experiência e sensibilidade moral, mas não necessariamente os melhores pesquisadores. Da mesma forma quando elegemos colegas para as sociedades científicas, preferimos expoentes de ensino e pesquisa, não necessariamente os mais humanistas. Esta ruptura entre o pensamento científico da AMB e do CFM é inusitada e cria maior insegurança para o médico que tem que tomar decisões diuturnas frente aos pacientes.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Veja, é assim que avalio a polêmica sobre o chamado “tratamento precoce”. Não há, temos que ser francos quanto a isso, evidências de que o tratamento precoce é danoso para os pacientes. Claro, há quem opine que prescrevê-lo pode levar o paciente a confiar que está protegido e que isso pode levá-lo a sujeitar-se a riscos a si e aos outros. Pode haver sim associação entre o entusiasmo em favor do tratamento precoce e certa forma de “negacionismo”, apregoando com isso que devemos afrouxar as medidas sociais de distanciamento, já que “temos tratamento”. Mas, veja, embora eu pessoalmente tenda a concordar que certas apregoações do tratamento precoce sejam prejudiciais por estimularem práticas imprudentes (não usar máscaras, promover aglomerações, etc.), trata-se também de uma especulação. Não há, sejamos francos, evidências (falo de evidências fortes, bem entendido) de que recomendar e prescrever o tratamento precoce tenha tais consequências clínicas ou sociais perversas. O que há é a falta de evidências fortes e confiáveis de que ele funciona, isto é, de que ele alcança o objetivo terapêutico proposto. Pode-se inclusive até admitir que os entusiastas do tratamento precoce partem de uma teoria fisiopatológica que poderíamos até mesmo chamar de “plausível”. Resumidamente, trata-se da visão de que é preciso prescrever, já nos primeiros dias da doença (antes de três dias, dizem seus defensores), isto é, mesmo antes dela ser confirmada por exames mais sensíveis, como o RT-PCR, um kit de medicamentos que teriam atividade antiviral, ou, segundo outra teoria, que protegeriam as células das vias respiratórias à penetração e replicação em seu interior do vírus, evitando assim que o nosso corpo desencadeie respostas imunes capazes de lesar os pneumócitos e levar o paciente, após cerca de 10 dias, a uma pneumonia com hipoxemia, isto é, à SRAG, a síndrome respiratória aguda grave associada à Covid-19 e, como decorrência de uma imunodisfunção severa e fenômenos microtrombóticos decorrentes, à necessidade de ventilação mecânica. O que há é uma (ou um conjunto) de teorias fisiopatológicas, aliada a uma variedade grande de observações muitas delas sistematizadas em estudos clínicos de qualidade variável, e aliada também ao efeito persuasivo da visão de que não é sensato deixar o paciente sem opções diante de uma doença que pode evoluir de forma grave. Por outro lado, a crítica ao emprego desses tratamentos é basicamente de que se trata apenas de uma teoria, cuja plausibilidade é também objeto de questionamentos, aliada a uma coleção de evidências globalmente de baixa qualidade, sujeitas, portanto, a vieses e fraquezas metodológicas, somado à presença de evidências fortes de que muitos desses medicamentos não obtêm o resultado esperado nas situações em que foram meticulosamente estudados (principalmente em pessoas gravemente enfermas ou internadas). A crítica é, convenhamos, bastante consistente: não há como elaborar recomendações fortes em favor do uso desses esquemas terapêuticos (que, aliás, não são uníssonos, há vários). A conclusão é de que eles não podem ser recomendados e que princípios precaucionários deveriam nos levar a evitá-los, já que há riscos conhecidos e bem estudados, ainda que pequenos. Mas disso não se segue que essas modalidades devam ser proscritas como prejudiciais ou que quem as prescreve seja imprudente (salvo nos casos que os estudos já identificaram, como, por exemplo, a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina em doentes internados ou com doenças cardiovasculares). O mesmo, aliás, se aplica a outras modalidades de tratamentos, como o soro convalescente (de eficácia também questionada) ou anticorpos monoclonais (como o tocilizumabe, cujos estudos são equívocos e os que dão a entender que funciona mostram apenas um benefício discutível e eventualmente de baixa eficiência ou custo-efetividade). Como sustentei acima, disso se segue que as autoridades sanitárias não devem incluí-los em protocolos que possam servir de orientação geral aos médicos, especialmente no sistema público. Mas também não se segue disso que quem os prescreve age de forma inescrupulosa ou imprudente. É o que entendo como uma posição de tolerância.
SBMT: Gostaria de acrescentar algo?
Dr. Ylmar Corrêa Neto: Acredito que alguns médicos não seguem as melhores evidências científicas durante a pandemia por cegueira partidária, outros por desconhecimento técnico na análise dos estudos. Alguns por dificuldade em argumentar com seus pacientes. Todos esses merecem alguma condescendência. Todavia um grupo de médicos não segue as recomendações por interesses econômicos. Médicos com especialidades usualmente não relacionadas com a COVID-19 têm extrapolado na propaganda de métodos de tratamento ineficazes, ludibriando os pacientes de forma charlatanesca. Estes merecem punição. Teremos muito a fazer na recuperação da credibilidade científica quando esta tempestade passar.
Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo: Acho que já disse o bastante e talvez tenha inclusive sido mais complexo e filosófico do que deveria. Tenho estudado assuntos de filosofia e ética relacionados à Covid desde o início do ano passado, em cooperação com outros três colegas filósofos, os professores Alcino Bonella, da UFU, Darlei Dall’Agnol, da UFSC, e Marcelo de Araujo, da UERJ, com quem compartilho muitas ideias e um grupo de pesquisa de alto nível. Tenho muito, aliás, a agradecer a eles. Mas, como sou médico, há um ponto importante que gostaria de ressaltar. Hoje vemos uma certa facilidade de acesso às mídias sociais pelos médicos, não somente pelos pacientes e políticos, que vem trazendo prejuízos à medicina como profissão. Nossa profissão classicamente se orienta por certos princípios ou virtudes, dentre os quais a magnanimidade e a humildade. Somos profissionais com uma responsabilidade especial. Viemos de uma elite, econômica e intelectual. Os pacientes, leigos, depositam em nós uma enorme confiança. Em resposta, buscamos atuar não de forma isolada, mas como membros de uma profissão única. Por isso cultivamos virtudes como o coleguismo e a parcimônia. Não é à toa que faz parte do código de ética médica proibições a divulgações sensacionalistas de práticas ou descobertas. Médicos não podem ser indivíduos eivados de soberba. Vemos hoje pessoas apressadamente usando as mídias sociais, divulgados “descobertas” aos pacientes, advertindo-os e acusando colegas de serem “antiéticos”. A falta de unidade na profissão cedo ou tarde irá provocar erosões na confiança do público na medicina. Está na hora de começarmos a separar nossas diferenças políticas dos assuntos técnicos. Também penso que a “ética médica” não pode ser usada como instrumento para uniformizar à força o pensamento na categoria. É hora de mais tolerância e sensatez. Temos condições de vencer a pandemia, mas, para tanto, precisamos ter também paciência e equilíbrio. Muitas pessoas já morreram, colegas já faleceram, muitos em razão de sua atividade profissional. Em memória aos que já se foram e aos que ainda estão doentes, é nosso dever buscar reunificar a profissão.
**Esta reportagem reflete exclusivamente a opinião do entrevistado.**